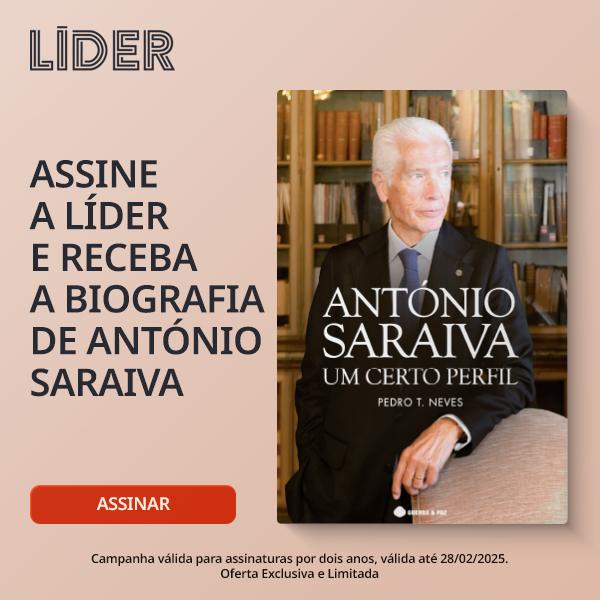Chamaram-lhe Kristin e abriu caminho a uma sequência de tempestades sem tréguas. Casas destruídas, zonas em estado de calamidade, falhas prolongadas de eletricidade e comunicações. O número de mortos já passou a dezena e continua a subir. Enquanto o país conta prejuízos e limpa ruas, há uma pergunta que ficou fora do radar político e mediático: o que acontece aos trabalhadores quando simplesmente não conseguem ganhar dinheiro — sobretudo os que estão em teletrabalho?
A advogada Joana Cadete Pires, coordenadora de Laboral da PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, analisa o vazio legal que deixa trabalhadores vulneráveis, os limites das empresas e os direitos em situações de catástrofe. E deixa um alerta corporativo e social:
«Há pessoas que não perderam a casa, mas vivem rodeadas por destruição, com familiares ou comunidades em risco. Sentem-se obrigadas a ajudar, mas juridicamente estão sozinhas — dependem quase exclusivamente do bom senso das empresas.»
Responde a todas as questões de forma direta, do impacto do teletrabalho à responsabilidade das empresas e do Estado, passando por bancos de horas, férias e proteção de freelancers.

Quando é que a impossibilidade de trabalhar passa a ser legalmente justificada?
Quando existe uma impossibilidade real e objetiva de trabalhar por facto não imputável ao trabalhador — estradas cortadas, cheias, deslizamentos ou risco concreto para a segurança — estamos perante faltas justificadas. Nessas situações, defendemos que não deve haver perda de remuneração. O trabalhador não escolheu faltar: foi impedido por circunstâncias externas. Já situações como a ausência de eletricidade exigem análise caso a caso.
Porquê a distinção entre eletricidade e impedimentos físicos?
Porque a eletricidade não afeta todos os regimes de trabalho da mesma forma. Se o trabalhador exerce funções presencialmente na empresa, a falta de energia em casa pode não impedir a prestação de trabalho. Diferente é quando não há condições físicas ou de segurança para sair de casa — aí a impossibilidade é evidente.
O teletrabalho revelou fragilidades. A lei garante infraestrutura como energia e internet para garantir o trabalho remoto?
A lei obriga o empregador a fornecer equipamentos e sistemas necessários ao trabalho, mas não foi pensada para cenários extremos como apagões generalizados.
Não se pode exigir que o empregador coloque geradores na casa do trabalhador. A legislação não antecipou falhas estruturais desta magnitude.
Sem eletricidade, a empresa pode exigir presença no escritório?
Se houver condições de segurança e mobilidade, sim. O Código do Trabalho permite ao empregador solicitar presença física, geralmente com 24 horas de antecedência. Se o trabalhador não consegue trabalhar remotamente por motivos externos e pode deslocar-se em segurança, poderá ser chamado às instalações.
E quando a zona está em estado de calamidade ou há risco para a segurança física?
Aí muda tudo. Se existe risco para a integridade física ou impossibilidade real de deslocação, a empresa não deve exigir presença. Estamos perante faltas justificadas por facto não imputável ao trabalhador. Nessas circunstâncias, a ausência pode ser considerada remunerada, desde que exista prova da impossibilidade.
Que provas deve reunir o trabalhador?
Desde logo, a declaração oficial de estado de calamidade ou medidas de proteção civil aplicáveis à zona. Mas também fotografias, vídeos, testemunhos ou outros elementos que demonstrem a situação concreta. A lei não define formatos rígidos, o que obriga a alguma flexibilidade.
O Código do Trabalho está preparado para emergências climáticas cada vez mais frequentes?
Não completamente. Muitas respostas resultam de interpretações adaptadas ao caso concreto. A lei não prevê de forma clara situações como teletrabalho forçado por apagões, calamidades ambientais ou impedimentos indiretos.
Há um vazio legal que exige reflexão legislativa. A ausência de proteção para trabalhadores afetados de forma indireta é especialmente preocupante. Pessoas que não perderam a casa, mas vivem rodeadas por destruição, familiares em risco ou comunidades devastadas — sentem-se obrigadas a ajudar, mas dependem do bom senso das empresas. Falta um enquadramento jurídico que reconheça essa realidade.
Que margens têm as empresas em bancos de horas, férias ou licenças forçadas?
Não de forma automática. O banco de horas exige formalização prévia — não pode ser criado de um dia para o outro. Se já existir e houver horas acumuladas, pode ser utilizado. Quanto às férias, dependem de acordo. A marcação unilateral pelo empregador só pode ocorrer, regra geral, entre 1 de maio e 31 de outubro. Fora desse período, como em fevereiro, a imposição é ilegal salvo consentimento do trabalhador. Para trabalhadores independentes, o Decreto-Lei n.º 31-C/2026 criou apoios extraordinários recentemente, um avanço relevante para profissionais historicamente mais vulneráveis nestes cenários.
Quem suporta o risco económico e quais são os erros mais comuns?
No regime geral não existe mecanismo que transfira automaticamente o risco para o Estado. Muitas situações ficam numa zona cinzenta que exige soluções negociadas e análise jurídica caso a caso. O principal risco é ignorar a segurança e o bem-estar das pessoas em nome da continuidade operacional. As empresas precisam de funcionar, mas não podem exigir comportamentos que coloquem trabalhadores em risco. Por outro lado, trabalhadores devem documentar bem as suas situações para evitar conflitos futuros. É um equilíbrio delicado, que exige bom senso e empatia institucional.
Faz sentido integrar mecanismos automáticos de resposta a desastres no Código do Trabalho?
Sem dúvida. O aumento de eventos extremos exige protocolos permanentes. O lay-off simplificado poderia estar já previsto para situações de calamidade, evitando decisões avulsas e atrasos.
Um quadro legal mais estável daria segurança a trabalhadores e empresas.