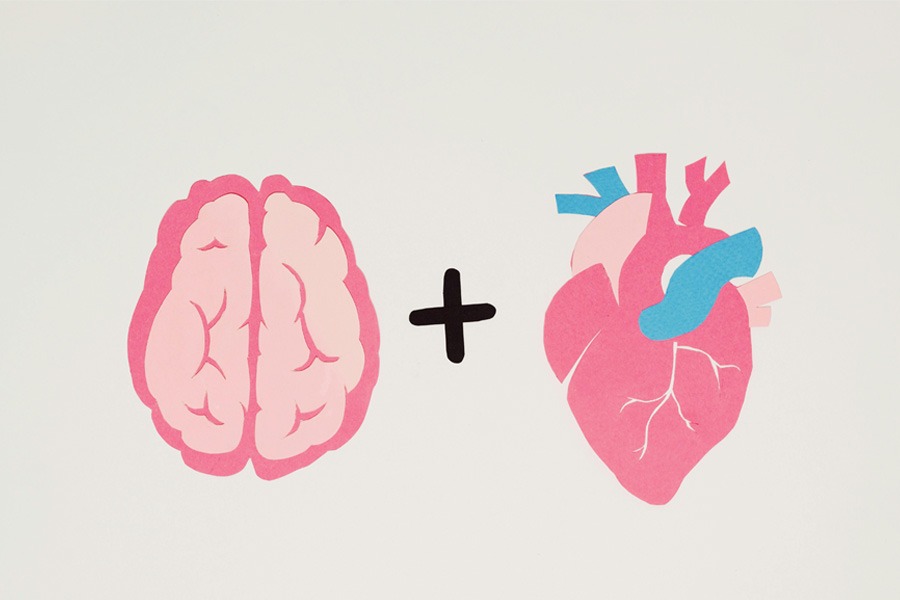«Vejam, sou apenas um planeta a fazer o seu trabalho, certo? Se querem viver em mim, isso é problema vosso…»
Esta citação, publicada no site satírico Daily Mash e atribuída ao planeta Terra12, é mais profunda do que parece. Podemos pensar no nosso planeta como uma «Mãe Terra» protetora, mas, na realidade, ela não é o tipo de mãe que se preocupa em saber se estamos suficientemente quentes ou se já comemos o necessário. A vida na Terra existe não porque tenha sido cuidada, mas porque encontrou uma forma de cuidar de si mesma. Se não tivesse sido assim, não estaríamos aqui. Quando os elementos químicos essenciais à vida chegaram à Terra, trazidos (imaginamos) por vários asteroides, a vida provavelmente emergiu várias vezes, apenas para ser extinta por mudanças inesperadas. Até que um dia, há cerca de 4 mil milhões de anos, uma tentativa de vida encontrou uma solução e acabou por se tornar o ancestral comum de toda a vida na Terra.
Não sabemos exatamente qual foi essa solução, mas uma hipótese é que várias reações químicas, cada uma capaz de gerar energia a partir do carbono existente na atmosfera, ficaram de alguma forma presas numa célula primitiva. Como cada reação funcionava de maneira ligeiramente diferente, a célula mantinha uma espécie de sistema de reserva. Se uma ou duas das reações falhassem, outra entraria em ação e a vida prosseguiria.
Como estratégia de sobrevivência, era extremamente arriscada e imprevisível, mas funcionou o tempo suficiente para que a evolução pudesse criar algo melhor — um conjunto de sensores especializados que permitiam à célula detetar mudanças no ambiente exterior, ajustar o seu estado interno em conformidade e interromper essa adaptação sempre que a situação voltasse ao normal. A este processo de autocuidado celular chamamos homeostasia e ele é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Milhares de milhões de anos após o surgimento da vida, a evolução aperfeiçoou uma variedade de ferramentas celulares para detetar mudanças físicas, químicas ou de temperatura, além de uma série de mecanismos para ajustar a química e restaurar o equilíbrio.
Avançando mais alguns milhares de milhões de anos, o processo de manutenção da homeostasia nos nossos corpos continua a ter, ao mesmo tempo, tanto de igual como de muito diferente. As células dos nossos corpos estão equipadas com variações desses mesmos sensores antigos, mas fiáveis, para detetar mudanças internas. Alguns, os quimiorrecetores, respondem a alterações em substâncias como o dióxido de carbono, a glicose ou a salinidade. Outros, os recetores humorais, detetam mudanças nos níveis hormonais, enquanto os mecanorrecetores se especializaram em detetar pressão ou distensão.
No decurso do longo caminho entre organismos unicelulares e seres humanos, algumas formas de vida tornaram -se tão complexas que o interior dos seus corpos passou a conter quase tantas variáveis quanto o mundo exterior. O nosso sistema interocetivo é o resultado evolutivo da necessidade de acompanhar em simultâneo estes dois mundos em constante mudança. O árbitro é o cérebro, que evoluiu para os acompanhar e coordenar respostas que garantam a nossa sobrevivência.
Para percebermos aonde chegámos, vale a pena rever brevemente os grandes avanços evolutivos que nos trouxeram até aqui. Estes golpes de génio acidentais foram poucos e espaçados e o primeiro demorou muito tempo até acontecer. Durante os primeiros dois mil milhões de anos, a Terra continha apenas vida unicelular. Depois, uma destas células encontrou o seu caminho dentro de outra e trocou alimento e abrigo por grande parte do seu ADN e de toda a energia que ela pudesse produzir. Esta é a origem daquilo que hoje conhecemos como mitocôndrias (frequentemente chamadas de «fábrica de energia» da célula). Com um fornecimento extra de energia e uma abundância de ADN novo e fresco, esta nova forma de vida híbrida pôde experimentar uma série de novas configurações.14 Algumas delas eram novas formas de vida multicelulares, como as algas verdes15, os bolores viscosos, os fungos e as esponjas.
Depois, tudo ficou em silêncio durante cerca de mil milhões de anos — um período conhecido como «Boring Bi‑llion» (bilião entediante). A vida foi seguindo o seu curso, percecionando e adaptando -se ao mundo por meio do equivalente químico aos bilhetinhos que são passados numa sala de aula. As mensagens viajavam lentamente de um lado para o outro de um ser, célula por célula, pelo ar ou pela água.
Depois houve uma idade do gelo, e as coisas abrandaram ainda mais. Quando a Terra finalmente aqueceu, a vida voltou a despontar. Após uns milhões de anos de tentativa-erro, nasceu um novo tipo de célula — uma célula que podia enviar mensagens mais rapidamente e com maior precisão, acelerando de forma significativa o processo de perceção e adaptação. Essas foram as primeiras células nervosas, e qualquer criatura que as tivesse descoberto que podia competir com os seus rivais e chegar mais depressa às fontes de alimento ou escapar aos perigos antes de os outros sequer se aperceberem deles.
Em muitos aspetos, estas novas células sofisticadas eram uma versão mais bem concebida da mesma ideia. Os neurónios sensoriais possuem muitos dos mesmos sensores que evoluíram nos primeiros dias de vida, mas, nos neurónios, estes sensores estão concentrados nas extremidades dos prolongamentos ramificados da célula (as dendrites), que se estendem pelos tecidos e detetam qualquer alteração na situação química e física ou uma possível variação problemática na temperatura. Quando é detetada uma alteração, a informação percorre uma fibra de comunicação (o axónio) para ativar a ação necessária. As medusas, por exemplo, possuem neurónios sensoriais que detetam o toque de um potencial predador.
Estes neurónios transmitem a mensagem a outro conjunto de neurónios, os neurónios motores, que dizem aos músculos da medusa para se contraírem, permitindo que o animal possa afastar-se e nadar para longe. Num mundo onde a velocidade pode fazer a diferença entre a vida e a morte, os neurónios permitiram que os animais pudessem sentir e reagir em menos de um segundo, dando-lhes vantagem sobre os seus concorrentes.
No jogo da sobrevivência, a velocidade é algo bom — mas a velocidade com um plano é ainda melhor. Foi por isso que, milhões de anos após o aparecimento dos primeiros neurónios, alguns animais começaram a desenvolver cérebros. Eles não surgiram em todos os ramos da família animal (as medusas e as estrelas-do-mar ainda conseguem viver sem eles), mas, no nosso ramo, tornaram o movimento não só mais rápido como mais inteligente. As primeiras versões que surgiram nos nossos ancestrais distantes eram semelhantes a vermes com pequenos feixes de corpos celulares nervosos, chamados gânglios, que continham os corpos celulares dos neurónios, a partir dos quais os axónios se estendiam pelo corpo. O maior aglomerado encontrava-se na extremidade da cabeça, próximo do ponto onde a maior parte dos seus sensores estava localizada.
Mais tarde, em algum momento, as ramificações corporais convergiram numa estrutura central, a espinal medula: uma espécie de organizador de cabos com vias bem definidas que envia informações sensoriais para dentro e instruções para fora baseadas em movimentos. Uma exceção notável a este sistema é a sua adição mais recente — o nervo vago. Tendo surgido do cérebro há cerca de quatrocentos milhões de anos, ramificou-se pelo corpo para se ligar a vários órgãos que, nessa altura, já tinham evoluído para desempenharem diferentes funções homeostáticas. A sua função era — e continua a ser — monitorizar em permanência e ajustar de forma automática os nossos órgãos, sem necessariamente ativar todo o organismo.
Na prática, isto conduz-nos ao sistema interocetivo que temos atualmente. Parece complicado quando o mapeamos, e isso acontece porque, de facto, é complexo. E embora estejamos ainda a tentar perceber como é que todas as partes encaixam e que sentido damos a tudo isto, o que sabemos é que cada elemento foi adicionado ao longo de milhões de anos com o objetivo de nos manter vivos. Infelizmente, porém, uma maior complexidade acarreta também um risco maior de falhar. À semelhança de um carro de alta performance que é demasiado sofisticado para um mecânico comum, o que temos é uma máquina afinada com extrema precisão — mas difícil de compreender e de manter.
A solução para o desafio da complexidade crescente foi engenhosa, mas não isenta de consequências. O cérebro deu aos animais a capacidade de ultrapassar o simples ciclo de sentir e responder; passaram a poder aprender e a usar as lições do passado para uma previsão informada sobre o que provavelmente iria acontecer em seguida. Mesmo nos cérebros mais primitivos e simples, ter grupos de neurónios reunidos num único local tornou inevitável que, além de enviarem mensagens pelo corpo, eles se ligassem uns aos outros e partilhassem informação. Isso permitiu que os animais se adaptassem a ameaças e oportunidades — não apenas rapidamente, mas muitas vezes antes mesmo de elas acontecerem.
Esta versão flexível da homeostasia chama-se alostase, que significa «estabilidade através da mudança», e que é, no que diz respeito às nossas vidas, uma bênção ambígua. Por um lado, dotou-nos de uma notável capacidade de adaptação a ambientes complexos, permitindo-nos antecipar e preparar respostas eficazes, evitando grandes desvios face ao rumo pretendido. Por outro, faz-nos gastar tempo e energia na adaptação a situações que podem nunca acontecer, o que implica mudanças no corpo e na mente que nem sempre são necessárias ou saudáveis. Quando os desafios continuam a surgir, sejam eles reais ou imaginários, essa constante previsão e adaptação pode deixar de ser uma estratégia de poupança de energia para começar a sobrecarregar os recursos do corpo. E é por isso, em suma, que o stress é tão desgastante — e tão prejudicial à saúde a longo prazo.
O lado positivo é que o nosso cérebro está constantemente a tentar encontrar um equilíbrio entre a adaptação preventiva e o gasto desnecessário de energia perante ameaças inexistentes. Isto pode ser explicado através do conceito de processamento preditivo: uma ideia relativamente nova na neurociência que utiliza modelos matemáticos complexos para explicar o funcionamento do cérebro. Em termos mais simples, significa que, como os neurónios partilham informação, o cérebro consegue fazer previsões baseadas na experiência sobre qual é a informação que tem maior probabilidade de chegar através dos sentidos. Prever o que está para acontecer permite que o corpo se prepare e inicie o processo de adaptação antecipadamente, acrescentando ainda mais velocidade a um sistema já de si rápido. Enquanto o corpo adapta a sua fisiologia para lidar com o que o cérebro espera que aconteça, as informações sensoriais vindas do interior do corpo — e também do exterior, através dos olhos, ouvidos e outros sentidos — fornecem provas em tempo real que confirmam a previsão ou a refutam como errada.
Se os sinais recebidos coincidem com a previsão do cérebro, está tudo bem e não acontece nada de especial. No entanto, se houver uma discrepância entre o que o cérebro espera e o que os sensores detetam, gera-se um sinal de erro, indicando que é necessário algum tipo de adaptação, seja para alterar a previsão, por exemplo, passar de uma sensação de segurança e calma para um estado de alerta e vigilância, seja para alterar o próprio sinal, por exemplo, afastar-se do calor de uma chama.
Se for necessário fazer uma adaptação, o sistema corpo-cérebro tem três opções. Primeiro, o cérebro pode alterar a sua previsão para corresponder ao que o corpo está a informar. Um estômago a roncar, por exemplo, pode levar à previsão de que o leitor está com fome, mesmo que tenha acabado de comer. Segundo, a sensação corporal pode ser alterada para corresponder à previsão do cérebro — ao dobrar uma esquina, pode deparar-se com uma subida que não estava à espera, e nesse momento as suas pernas sentem-se cansadas por anteciparem a subida. A terceira opção é que o volume dos sinais corporais pode aumentar ou diminuir durante o seu trajeto pelo corpo e pelo cérebro. Isso pode significar ignorá-los temporariamente em favor de algo mais urgente (por exemplo, não sentir a dor de um tornozelo partido até ter abandonado o perigo) ou intensificá-los até que não possam mais ser ignorados (como acontece, por exemplo, com a sensação de asfixia esmagadora durante um ataque de pânico).
A escolha da opção mais fiável depende da fonte de informação considerada. Ninguém sabe exatamente como essa decisão é tomada, mas, de alguma forma, o circuito neuronal cérebro-corpo parece apostar na opção mais provável em cada momento. O resultado é aquilo que experienciamos como realidade: uma «melhor suposição» baseada nas expectativas do cérebro, nos sinais corporais e na necessidade de agir quando as duas informações não coincidem. Mas mesmo quando não somos conscientes dessas conversas entre corpo e cérebro, elas podem influenciar a forma como pensamos e sentimos, afetando questões frequentemente descartadas como apenas «uma coisa da nossa cabeça».
A complexidade e a natureza em constante mudança do nosso sistema interocetivo explicam por que razão duas pessoas na mesma situação podem ter experiências tão diferentes. Também é por isso que, por vezes, pode ser tão difícil explicar porque pensamos e sentimos de uma determinada forma. Tudo se resume à «melhor suposição» de um sistema corpo-cérebro muito complexo.

Este artigo foi publicado através de um excerto original do livro ‘O Sentido Interior’ da autora Caroline Williams, com o consentimento da mesma.